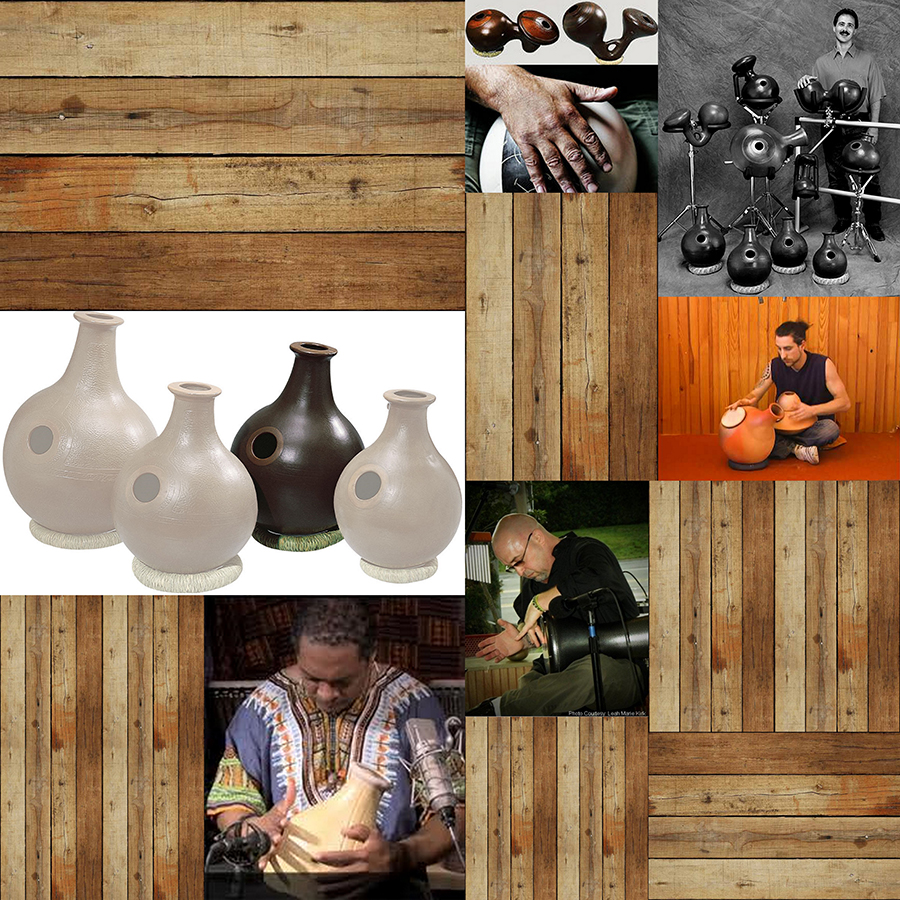Aos 17 anos Pierre Verger parou de frequentar a escola. Aos 30, após a morte de sua mãe, deixou Paris e os valores burgueses do ambiente onde cresceu. Iniciou suas viagens pelo Taiti, inspirando-se no pintor Paul Guaguin. Em 1946, tendo já viajado por todos os continentes, desembarcou em Salvador. Aqui encontrou uma cidade pequena e muito bonita, repleta de descendentes de africanos. Foi seduzido e resolveu ficar.
Desde o início das suas viagens ele fotografava. As suas escolhas de imagens demonstram um interesse particular por pessoas e expressões culturais e um talento especial para selecionar e registrar instantes eloquentes. Trabalhando, dançando, dormindo ou apenas posando, seus modelos são sempre naturais e expressivos.
Verger aprofundou seu pendor para a antropologia delimitando como temas a cultura negra, relações entre a África e a Bahia e o candomblé. Por suas pesquisas nessas áreas recebeu o título de Doutor Honoris Causa pela Sorbonne. E mais, tornou-se Babalaô, uma autoridade no candomblé.
Estas imagens são exemplos do seu trabalho como repórter fotográfico no Brasil, EUA, África e Taiti, ainda na primeira metade do século. Por suas fotos, muitos o consideram um dos precursores da antropologia visual. Ou seja, através do seu modo particular de fotografar pessoas e situações comuns, Verger seria capaz de reconstituir, em certa medida, o espírito de um lugar e de uma época. Nós, baianos, temos bastante material para averiguar isso no seu livro "Retratos da Bahia". E a comprovação ocorre quando reconhecemos a nós mesmos naquelas fotos.
Pierre Edouard Léopold Verger nasceu em Paris, dia 4 de novembro de 1902, filho de uma abastada família de origem belga e alemã. Sua vida transcorre sem imprevistos e grandes emoções até a morte da mãe em 1932. Ruma então para a Córsega, onde viaja 1.500 km a pé em companhia do fotógrafo Pierre Boucher, que o ensina a fotografar. Parte no mesmo ano para o Taiti em busca de uma vida nova. Em 1934 funda, com Pierre Boucher e outros, a agência de fotógrafos independentes Alliance Photo. Empreende viagens pela Europa, Caribe, América Latina, Ásia e África. É convocado às vésperas da Segunda Guerra para servir no Senegal. Dispensado após o armistício franco-alemão, segue em 1941 para América do Sul (Brasil e Argentina), fixando residência em Lima (Peru). Em abril de 1946 viaja para o Brasil. Chega a Salvador em agosto do mesmo ano, onde se estabelece e dá início ao seu longo mergulho na cultura afro-brasileira. Viaja pelo Nordeste brasileiro, Suriname e Haiti. Em outubro de 1948 é consagrado a Xangô, Deus do trovão, no terreiro de Dona Senhora (Salvador). Segue em novembro do mesmo ano para Dakar (Senegal), lá iniciando suas extensas pesquisas sobre os cultos africanos na África e no Novo Mundo. Em Benin é iniciado no culto de Xangô e recebe em 1952 o nome de Fátúmbí, "filho do trovão". Em 1966 defende na Sorbonne sua tese sobre o tráfico de escravos entre o Golfo de Guiné e a Bahia de Todos os Santos. Realiza nos anos seguintes viagens pela Nigéria, Benin, Caribe e Brasil. Falece em Salvador no dia 11 de fevereiro de 1996. Além de inúmeras publicações científicas, livros de fotografia e filmes documentários, Pierre Fátúmbí Verger produziu, ao longo de sua vida, cerca de 65 mil negativos de fotos, que se encontram hoje reunidos na Fundação que leva seu nome em Salvador.
Fotógrafo, etnólogo, antropólogo, autor de mais de 40 livros, Verger nasceu em Paris em 1902 de uma família burguesa de origem belgo-alemã. Seus pais eram donos de uma grande gráfica na capital francesa.
Começou a fotografar em 1932. Aos 30 anos, colocou o pé na estrada, e até 1946, viajou pela Europa, esteve na China, nas ilhas da Polinésia, no Japão, na África e no México. Na América Latina, esteve no Brasil em 41, seguindo para a Argentina. Entre 42 e 46, fixou residência em Lima, no Peru.
Em 46, voltou ao Brasil e foi contratado pela revista "O Cruzeiro". Fez reportagens sobre o candomblé, impressionando-se com a cultura dos descendentes africanos. Percebeu então que, de lado a lado, havia uma troca de influências entre africanos e brasileiros. A partir desse momento, a conexão cultural entre a África e o Brasil tornou-se o seu foco de interesse e marcou toda a sua obra.
Em 47, recebeu uma bolsa de estudos de Théodore Monod, diretor do Institut Français d'Afrique Noire, para estudar durante um ano na École Française d'Afrique. No ano seguinte, começou a escrever, tornando-se mais ocupado com suas pesquisas sobre a cultura afro que com a fotografia.
Em 49, Verger descobriu na África documentos dos séculos 17 a 19 sobre o tráfico de escravos entre o golfo da Guiné e a Bahia. Dedicou 17 anos de estudos a esse fato, tornando-se etnólogo doutorado pela Sorbonne de Paris, em 66, sem nunca ter frequentado aquela universidade. Sua tese deu origem ao livro Fluxo e Refluxo do Tráfico de Escravos Entre o Golfo de Benin e a Bahia de Todos os Santos nos Séculos 17 a 19.
Verger tornou-se, ele próprio, um agente ativo do intercâmbio cultural entre a África e a Bahia, levando e trazendo objetos, presentes e informações em suas muitas viagens. Em suas pesquisas, conheceu reis das nações iorubas (onde hoje fica a Nigéria) e envolveu-se com os rituais afros, tendo sido sagrado babalaô, adotando o nome FATUMBI- o renascido da graça de Ifé -, na África, em 52. Quando faleceu, em 11 de fevereiro de 1996, aos 93 anos, vivia em Salvador, numa casa pintada de vermelho, para lembrar que ele era filho de Xangô.
Verger produziu cerca de 65 mil negativos de fotos, além de filmes e gravações. Foi autor, com outro "baiano-estrangeiro", o pintor Carybé, de Lendas Africanas dos Orixás e da Iconografia dos Deuses Africanos no Candomblé da Bahia, em torno do tema dos Orixás.
Seu último livro foi "Ewé" (Cia das Letras), sobre o uso medicinal e mágico das ervas. Resultado de 40 anos de compilação de inúmeras receitas, muitas delas ligadas aos rituais secretos dos iorubas, às quais teve acesso pelo seu envolvimento nos cultos, a publicação de "EWÉ" era considerada uma missão pelo próprio Verger.
Suas fotos e escritos são ferramentas importantes para o conhecimento da cultura mestiça afro-brasileira. Suas imagens de festas populares, de candomblés, procissões, de igrejas, praças e sobrados estão guardadas na Fundação Pierre Verger - um anexo à casa onde ele morava -, e registraram para sempre a alma baiana num exaustivo trabalho de documentação.